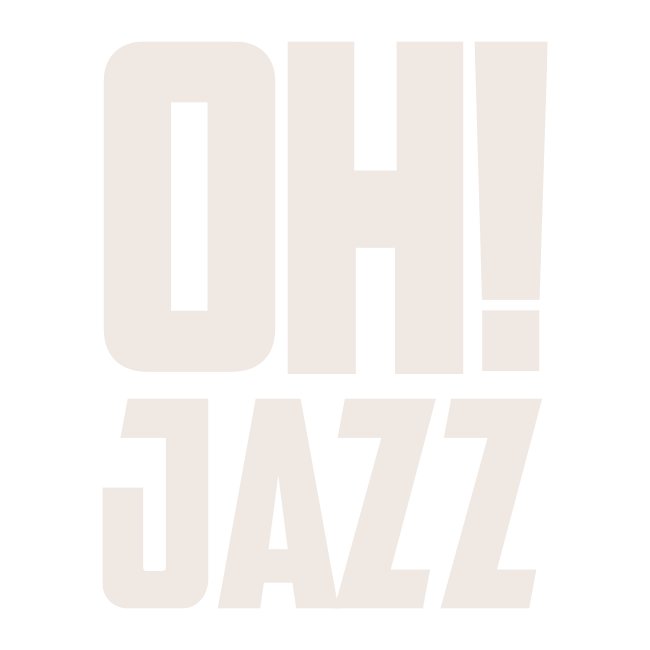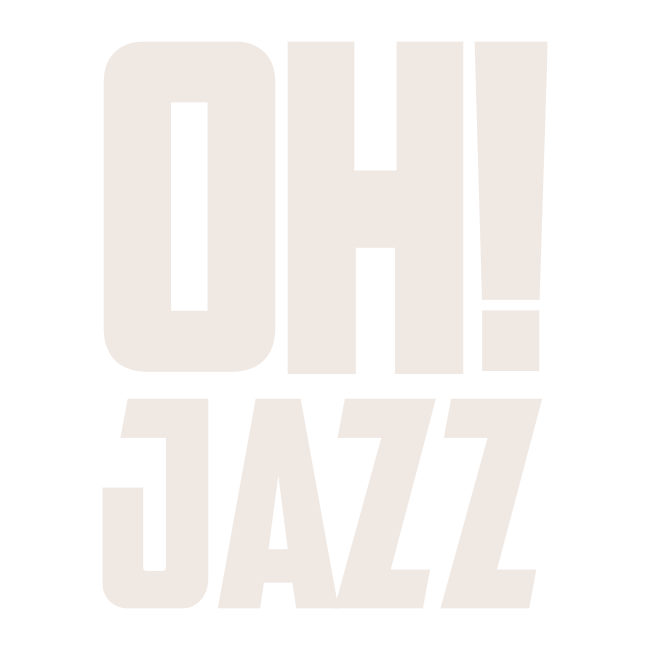Brazilian Jazz: Novas Vozes, Raízes Sólidas e Diálogo Global
Mestre Negro: Musica de Moacir Santos
A música instrumental brasileira vive um constante ciclo de renovação. Repertórios se testam ao vivo em clubes e centros culturais, e tradições ganham novas dobras. Para quem vem de fora, a pergunta inevitável é: o que faz esse som soar "brasileiro" sem perder a vocação jazzística da invenção espontânea, da improvisação?
A resposta talvez comece no ritmo. Em vez do swing marcado na condução do prato da bateria, o pulso brasileiro se desloca para dentro da síncopa do samba, do choro, do baião, do frevo, do ijexá. A bateria articula a levada em camadas — caixa em diálogo preciso com bumbo, chimbal a pontuar com delicadeza, surdos e pandeiros reais ou imaginários orientam as divisões rítmicas — e o baixo escreve linhas com acentos antecipados ou atrasados que criam uma sensação de balanço contínuo. O violão (predominantemente de nylon, às vezes de sete cordas) sustenta a levada como um mini-set de percussão harmônica, enquanto a melodia carrega o lirismo que vem do choro e da canção popular, mesmo quando ninguém canta. Esse é o campo do chamado Brazilian Jazz: não um subgênero, mas um eixo de práticas que fazem o jazz soar de outro jeito.
O caminho histórico ajuda a entender a construção desse idioma. Na metade do século 20, figuras como Radamés Gnattali costuraram a ponte entre o erudito e o popular, enquanto Garoto trouxe ao violão uma modernidade harmônica que formaria gerações. A bossa nova abriu portas globais no início dos anos 1960 e levou o jazz a ouvir o Brasil com outros ouvidos — "Jazz Samba", de Stan Getz e Charlie Byrd, e "Getz/Gilberto" amplificaram isso, ao lado do universo harmônico de Antônio Carlos Jobim (ouça "Wave" e "Stone Flower" para notar o casamento de dissonâncias debussianas com balanço carioca).
Com Moacir Santos, em "Coisas" (1965), a arquitetura do som instrumental brasileiro dá um salto: células rítmicas afro-brasileiras, melodias memoráveis e uma orquestração moderna que ainda hoje soa de vanguarda (entrada segura para o ouvinte: procure "Coisa nº 5 – Nanã"). Na década de 1970, Hermeto Pascoal expande o laboratório com uma música de corpo inteiro, percussiva, harmônica, livre e, ainda assim, profundamente cantável ("Bebê" e o álbum "Slaves Mass" são portas de entrada), enquanto Egberto Gismonti, na ECM, traduz o Brasil em equilíbrio sutil entre dissonâncias e consonâncias e improviso ("Magico", com Jan Garbarek e Charlie Haden, é exemplar). Em paralelo, Airto Moreira e Flora Purim escrevem um capítulo definitivo do fusion com sotaque brasileiro, e Nana Vasconcelos transforma a percussão em paisagem poética.
A partir dos anos 1980, o circuito se capilariza: grupos como Pau Brasil, a big band Banda Mantiqueira, instrumentistas como Nico Assumpção no baixo elétrico e Raul de Souza no trombone afirmam uma linguagem virtuosística. Nos anos 2000 e 2010, uma geração retoma o palco como centro de inovação: Hamilton de Holanda, com o bandolim, recoloca o choro no coração do improviso jazzístico; Yamandu Costa leva o violão de 7 cordas a territórios rítmicos e harmônicos vertiginosos; André Mehmari cruza música de câmara, canção e jazz; Antônio Loureiro e Daniel Santiago representam uma escola de composição e groove renovada; e Amaro Freitas, desde o Recife, reimagina baião, maracatu e ciranda em linguagem pianística contemporânea e de forte identidade.
Do lado de fora, ouvidos atentos respondem: Anat Cohen se aproxima do choro com profundidade (escute as parcerias com Trio Brasileiro e o duo com Marcello Gonçalves dedicado a Moacir Santos), e Kurt Rosenwinkel, em "Caipi", revela o quanto o colorido harmônico e o balanço do Brasil podem reorganizar uma estética de guitarra moderna.
O impacto global do Brazilian Jazz hoje passa menos por rótulos e mais por práticas de reinvenção. É cada vez mais comum ver trios de piano incorporar baião e ijexá com naturalidade; guitarristas reorganizam a mão direita a partir da tradição do violão brasileiro; percussionistas transformam o pandeiro em uma "bateria de uma mão"; arranjadores escrevem para sopros somando acordes jazzísticos à articulação do choro. Ao mesmo tempo, o circuito brasileiro tem acolhido colaborações internacionais que respeitam a matriz local, evitando exotismos: projetos dedicados a Moacir Santos, releituras de Baden Powell em formato instrumental, frevos arranjados para formação de câmara, big bands estreando composições com motivos de maracatu. Tudo isso aponta para um futuro em que o Brazilian Jazz continua sendo laboratório de linguagem, e não só categoria de prateleira.
No Brasil, a escuta permanece ativa e reage ao balanço e à divisão da síncopa. É nela que as linhas de baixo encontram as sutilezas da bateria, que o violão conversa com o piano sem se atropelar, que o sopro consagra a melodia. O resultado é uma música que se move com todo o corpo — uma improvisação que flerta com a dança. Para o público de jazz, a provocação é entregar o ouvido a outras gravidades, outros centros de pulso e outras cores harmônicas. É nesse cenário, reinventado noite após noite, que a cena instrumental brasileira segue criando jazz que conversa com o mundo sem perder seu sotaque.
por Rodrigo Morte